




















Poeta americano, Billy Collins nasceu em Manhattan em 1941 e cresceu em Queens. Professor, consultor e mentor de várias revistas, promotor de workshops de poesia, foi laureado, entre 2001 e 2003, como Joseph Brodsky ou Stanley Kunitz; escreveria aliás, em 2002, um magnífico poema, incluído nesta antologia, Os Nomes, homenagem às vítimas dos ataques do 11 de Setembro.
Chamam-lhe um campo onde os animais
que foram esquecidos pela Arca
vêm pastar sob as nuvens da noite.
Ou uma cisterna, onde a chuva que caiu
antes da história escorre ao longo de uma placa de cimento.
Qualquer que seja a forma de o ver
este não é um lugar para montar
o cavalete de três pernas do realismo
ou fazer o leitor subir
as muitas cercas de um enredo.
Deixo o romancista corpulento
com a sua máquina de escrever barulhenta
descrever a cidade onde nasceu Francine,
como Albert leu o jornal no comboio,
como as cortinas sopravam no quarto.
Deixa a dramaturga com o seu casaco rasgado
e um cão enroscado no tapete
levar as personagens
dos bastidores para o palco
para enfrentarem a escuridão de muitos olhos da sala.
poesia não é lugar para isso.
Já temos muito para fazer
ao protestar contra o preço do tabaco,
passar a concha da sopa a pingar,
e cantar canções a um pássaro numa gaiola.
Estamos ocupados a não fazer nada –
e tudo o que precisamos para isso é de uma tarde,
um barco a remos sob um céu azul,
e talvez um homem a pescar de uma ponte de pedra,
ou, melhor ainda, ninguém nessa mesma ponte.
Amor Universal, Billy Collins, Averno
trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014
Hoje
Se alguma vez houve um dia de primavera tão perfeito,
tão animado por uma brisa morna intermitente
que te fez querer abrir
todas as janelas de casa
e destrancar a porta da gaiola do canário,
na verdade, arrancar a pequena porta do seu batente,
um dia em que os frescos caminhos de tijoleira
e o jardim repleto de túlipas
pareciam tão incrustados na luz solar
que até te apeteceu dar com
um martelo no pisa-papéis de vidro
que está na mesa ao fundo da sala de estar,
libertando os habitantes
da sua casinha coberta de neve
para que assim pudessem sair,
de mãos dadas e franzindo os olhos
ao ver esta abóboda maior de azul e branco,
então, hoje é mesmo esse tipo de dia.
Amor Universal, Billy Collins, Averno
trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014
Rebanho
“Calcula-se que para cada exemplar da Bíblia
de Gutenberg… foram necessárias as peles de 300 ovelhas”
– de um artigo sobre imprensa
Parece que as estou a ver apertadas no curral
por trás do edifício de pedra
onde a prensa funciona,
todas elas se ajeitando
para encontrar um pouco de espaço
e tão parecidas umas com as outras
que seria quase impossível
contá-las,
e não há forma de dizer
qual delas irá levar a notícia
de que o Senhor é um pastor,
uma das poucas coisas que elas já sabem.
Billy Collins, Amor Universal,
trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014

Nasceu no Porto, a 3 de Junho de 1967. Divide o seu tempo entre Leça da Palmeira e Venade. Publicou o primeiro livro de poemas Há Violinos na Tribo, em 1989, a que se seguiram Rua Trinta e Um de Fevereiro (1991), Este Lado para Cima (1994), Lugares Comuns (2000), 3 (poesia 1987-1994), em 2001, Rés-do-Chão (2003), Luz Última (2006) e A Parte pelo Todo (2009). Mediterrâneo (2016) é o seu terceiro livro de poemas na Quetzal Editores, após a publicação de Poesia Reunida (2011) e de Você Está Aqui (2013).
História de uma tarde
Há
uma réstia de tarde ainda por resolver.
Não durará muito é certo (espera-a
o esquecimento) somente o necessário até
a noite baixar. Ainda falta esta luz
antes de fechar a praia
(um átimo para esquecer
recordar
voltar atrás). Já não sobra muito eu sei
(só instantes sem momentos) esse pouco
que divisa memória de
ilusão. Procuro o inefável na espessura da tarde –
se eu não guardar num poema esta hora atravessada
nem ela nem esta tarde alguma
vez existirão.
Mediterrâneo, João Luís Barreto Guimarães, Quetzal
Still Life
Os livros
abandonados no apartamento de Jan falavam
línguas distintas. Podíamos ir pela estante
(coleccionando fronteiras)
tentando adivinhar quem os teria legado
(quem sabe se em desagravo
pelo rumo da história)
suponho que: pelo desvelo que impele
à partilha. Cruzando o apartamento alugado
tantos anos saudei
nos livros esquecidos a experiência do mundo
(breves rasgões na lombada
testemunhando a viagem)
o olvido por companhia cedo demais
para morrer. Nessa idade em que uma mão (a
minha a
sua: leitor) podia da vida quieta
extrair vida ainda.
Você está aqui, João Luís Barreto Guimarães, Quetzal

Nascido em 1938, em plena Guerra Civil, em Sanaüja, uma aldeia na província de Lleida, Joan Margarit incorporou esse conflito na sua obra, que iniciou no final da década de 1950, então ainda em castelhano. Casa da Misericórdia é um exemplo marcante, com as suas referências às crianças orfãs, acolhidas pela instituição de que o livro toma o nome, aos abrigos, as fugas. Morte, separação, velhice, solidão, temas inelutáveis, a que a sua poesia não se furta.
Misteriosamente Feliz, de Joan Margarit
Elegia da Alvorada
É um poeta cinzento de um país cinzento
numa cidade cinzenta com um grande porto.
E tu procuras-te nele para raconheceres
a angústia e a névoa dos teus olhos.
Permanece na penumbra, como o rapaz
que outrora olhava a chuva atrás dos vidros:
é um poeta cinzento de um país cinzento,
ao amanhecer, numa cidade cinzenta
com um grande porto junto a um mar de Inverno.
O corpo cai no futuro
como um pássaro num poço.
É um poeta cinzento de um país cinzento,
já surdo para o futuro,
o futuro a que pertence este poema.
Com cores de roupa negra destingida
principia a aurora: na calçada
o vento acumulou as folhas secas,
até que, de súbito, co fúria,
as levanta como uma debandada de pássaros.
O rapaz de há muitos anos
vê surgir o sol atrás dos vidros:
é já um poeta cinzento de um país cinzento
numa cidade cinzenta com um grande porto.
Poema Para Um Friso
Era um desenho num papel tão fino
que o levou o vento. Da janela
mais alta até tão longe, ruas, o mar:
o tempo que não recuperarei.
Procurei-o nas praias, no Inverno,
quando mais se lamenta um desenho perdido.
Segui os caminhos de todos os ventos.
Era o desenho a lápis de uma rapariga.
Meu Deus, como o procurei.
Organização de Miguel Filipe Mochila
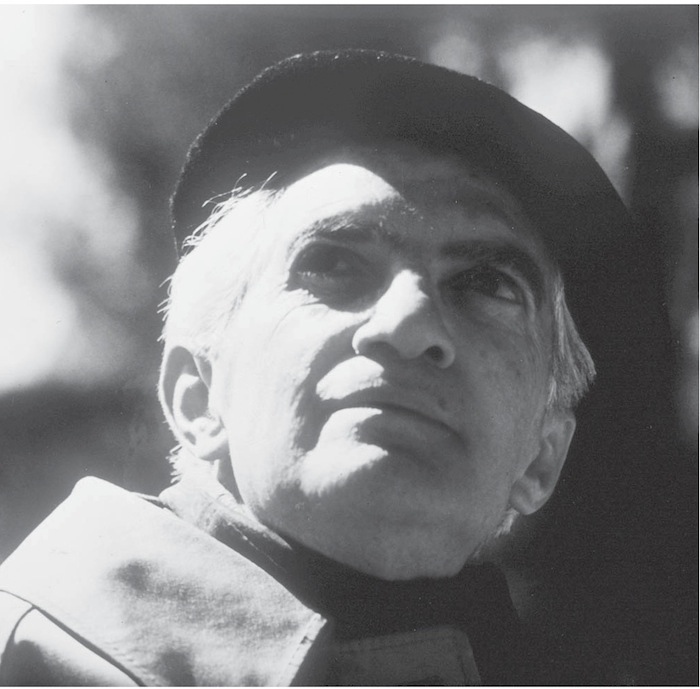
Blas de Otero Muñoz (Bilbao, 15 de março de 1916 – Majadahonda(Madrid), 29 de junho de 1979) foi um poeta originário do País Basco, tendo, porém, escrito em língua castelhana, considerado um dos principais representantes da poesía social dos anos cinquenta em toda a Espanha.
Anjo Ferozmente Humano, de Blas de Otero
Ar Livre
Se há alguma coisa de que gosto, é viver.
Ver o meu corpo nas ruas,
falar contigo como um camarada,
olhar os escaparates
e, sobretudo, sorrir de longe
às árvores…
Também gosto dos camiões cinzentos
e muitíssimo mais dos elefantes.
Beijar os teus seios,
deitar-me no teu regaço e despentear-te,
engolir água do mar como cerveja
amarga, escumante.
Tudo o que seja sair
De casa, espirrar de tarde em tarde,
cuspir contra o céu das tundras
e as medalhas dos semelhantes,
sair
deste espaçoso e triste cárcere,
apressar os rios e os sóis,
sair, para o lar livre sair, para o ar.
Tradução: Miguel Filipe Mochila
Edição: Língua Mota
Parece Que Chove
Agora sim está a chover em Bilbao,
é sete de Agosto e chove como na minha infância,
delicadamente
e insistentemente, chove e o ar enche-se de eees,
de leves letras frágeis, indecisas
como aquela manhã dos teus treze anos em Barambio
quando não te atreveste a dizer a Charito que a amavas,
mas chove
e aquilo e tantas outras vicissitudes que foram caindo
sobre a tua vida como uma mansa chuva já não têm remédio,
nem deus o remedeia tal como naquela manhã em que não
chegate a decidir-te em Herrera de Pisuerga junto aos seus
seios tão frescos, chove veladamente, admiravelmente,
um pouco transversalmente,
ah esta Bilbao maçadora em que se não fosse estar a chover
nos afogaríamos todos de tédio,
fumo e beatice, mas chove contra as torres da
quinta paróquia,
e que havemos de fazer se chove
insistentemente
e, deves dizê-lo, delicadamente.
Tradução: Miguel Filipe Mochila
Edição: Língua Morta
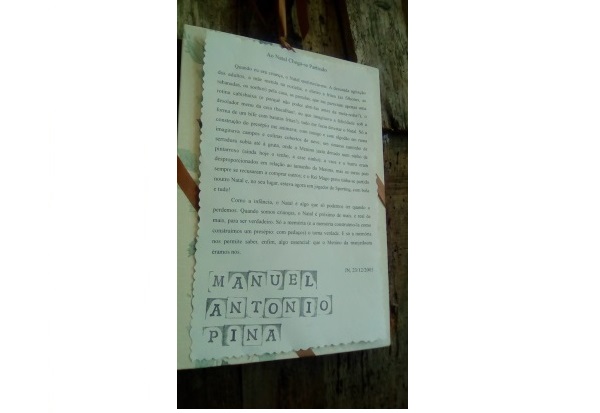
Ao Natal Chega-se Partindo
Quando eu era criança, o Natal entristecia-me. A desusada agitaç ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!
ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!
Como a infância, o Natal é algo que só podemos ter quando o perdemos. Quando somos crianças, o Natal é próximo de mais, e real de mais, para ser verdadeiro. Só a memória (e a memória construímo-la como construímos um presépio: com pedaços) o torna verdade. E só a memória nos permite saber, enfim, algo essencial: que o Menino da manjedoura éramos nós.
JN, 23/12/2005
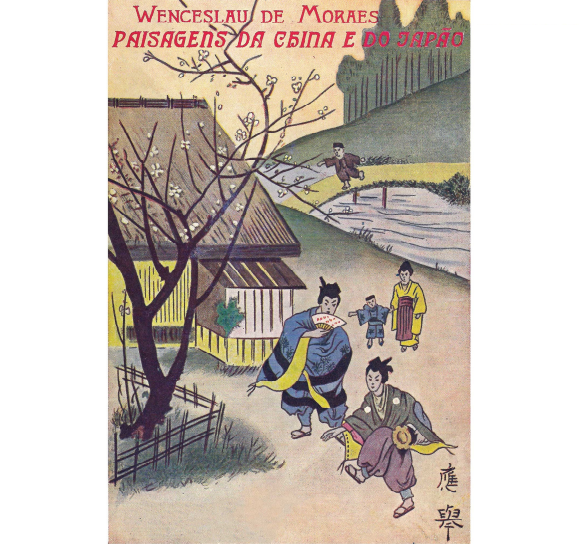
“Há alguns dias, na cidade de Kobe, – poderia precisar o dia, e quase a hora, se tamanho rigorismo me exigissem, – irrompeu a Primavera. Irrompeu: não há sombra de exagero no vocábulo. Irrompeu, surgiu de um pulo, fez explosão. Neste país do Sol Nascente, onde o sol, e com ele todas as grandes forças naturais, são ainda uns selvagens – se assim posso expressar-me – uns selvagens sem freio, sem noção das conveniências, incapazes de se apresentarem de visita, de luvas e casaca, numa corte qualquer da nossa Europa: neste país do Sol Nascente, ia eu dizendo, a criação inteira apostou, parece, em oferecer em cada dia uma surpresa, toda ela exuberâncias inauditas, espalhafatos únicos, repentismos nervosos, caprichos doidos, como se reunisse em si a quinta essência da alma das crianças e a quinta essência da alma das mulheres, a gargalhada, a troça, enfim, motejadora de tudo quanto é ordem, harmonia, contemporisadora lei das transições.”
Paisagens da China e do Japão é um livro composto por 17 crónicas literárias e contos, escritos sobre a realidade da China, particularmente de Macau, e sobre o Japão, país que Wenceslau de Moraes escolheu para passar o resto da sua vida. Uma viagem pela cultura de ambos os países, nessa altura ainda muito desconhecidos em Portugal. Todos os contos são ilustrados com gravuras, antigas litografias que o autor escolhera para ilustrar os contos e, inclusive, desenhos originais do próprio Wenceslau de Moraes.
Pintura de Shoda-Kakuyu
Dispomos de livro de reclamaçoes eletrónico: https://www.livroreclamacoes.pt/