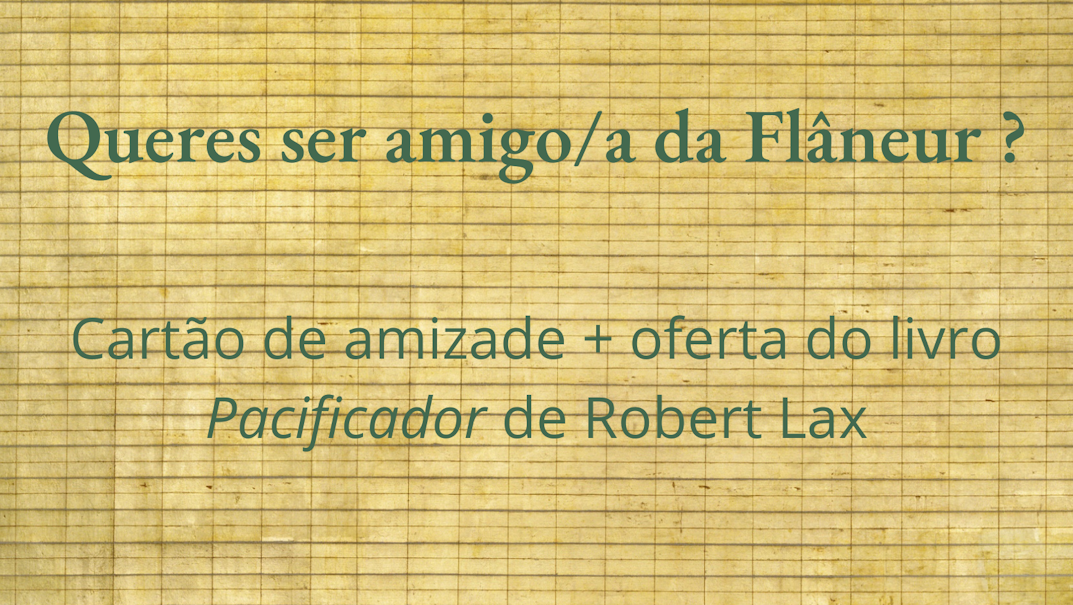Outrora, no momento em que as estradas se harmonizavam no seu declínio, a erva erguia ternamente  as suas hastes e alumiava as suas claridades. Os cavaleiros diurnos nasciam ao olhar do seu amor e os castelos das bem-amadas contavam tantas janelas como no seio do abismo as ténues tempestades.
as suas hastes e alumiava as suas claridades. Os cavaleiros diurnos nasciam ao olhar do seu amor e os castelos das bem-amadas contavam tantas janelas como no seio do abismo as ténues tempestades.
Outrora a erva conhecia mil insígnias que não se contrariavam. Era a providência dos rostos banhados de lágrimas. Encantava os animais e abrigava o erro. E era tão extensa como o céu que venceu o medo do tempo e reduziu a dor.
Outrora a erva era bondosa para os loucos e hostil para o carrasco, ligava-se em renovado amor ao limiar de sempre, inventava jogos palpitantes de asas no sorriso (tão perdoados quão fugitivos jogos…), não era dura para os que tendo perdido o caminho o desejassem perdido para sempre.
Outrora a erva tinha estabelecido que a noite vale menos que o seu poder, que as nascentes não complicam por capricho o seu percurso, que o grão ajoelhado está já a meio caminho do bico do pássaro. Outrora terra e céu odiavam-se, mas terra e céu viviam.
A inextinguível secura escoa-se. O homem é um estrangeiro para a aurora. No entanto, a caminho da vida que não pode ser ainda imaginada, há vontades que fremem, murmúrios que vão afrontar-se e crianças sãs e salvas – que descobrem.
Pintura: Narcisse-Virgile Diaz de la Peña